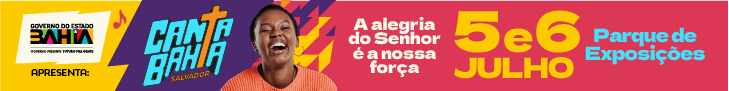Teste de gênero acende debate antes das Olimpíadas, e Érika Coimbra quebra silêncio. Entenda o fato!
7 min read
Do Zigzagdoesporte.com.br por Globo Esporte.com
No início de dezembro, a ONG Human Rights Watch divulgou um relatório de 127 páginas no qual exortou entidades esportivas internacionais, como o COI (Comitê Olímpico Internacional) e a World Athletics (federação internacional de atletismo), a impedir que sejam feitos exames de gênero em atletas mulheres da elite, sobretudo àquelas vindas do hemisfério sul.
O documento lançou luz sobre um problema que, na verdade, existe há muito tempo. Do início do século 20 até as Olimpíadas da Cidade do México, em 1968, cada federação internacional e o COI tinham a prerrogativa de escolher quais mulheres deveriam se submeter aos testes para verificação de feminilidade.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2021/H/U/s5WX3bQ7enU32l4JkvWQ/erika.jpg)
Érika Coimbra, medalhista olímpica do vôlei — Foto: Ulisses Mendes
As escolhidas, muitas vezes, eram obrigadas a permitir que um comitê de médicos inspecionasse seus órgãos genitais. A partir dos Jogos do México, os testes passaram a ser obrigatórios e aos poucos se tornaram menos invasivos, com amostras de saliva e sangue. Ainda assim, todas as mulheres classificadas para as Olimpíadas tinham que ser testadas.
A situação chegava ao absurdo de as testadas – e aprovadas – receberem uma carteirinha, chamada entre as próprias atletas de “carteira rosa”, na qual se comprovava que eram, de fato, mulheres. A dificuldade em lidar com as atletas intersexo no esporte resultou em uma história de discriminação e constrangimento.
O problema é que a biologia não divide homens e mulheres de forma tão simples como o esporte propõe. Alguns indivíduos são intersexo porque desenvolvem naturalmente características de ambos os sexos por várias razões, como genética ou hormonal, por exemplo.
Desde o ano 2000 o COI decidiu abandonar a obrigatoriedade dos testes, mas eles ainda existem em algumas modalidades. Entre elas, a World Athletics, que é entidade-alvo do relatório da Human Rights Watch.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2020/d/1/S3ic3bR0myHg741A35Bg/volei-anos-1990-12-erika.jpg)
Erika pela seleção nos anos 1990 — Foto: Reprodução
Em 2018, a federação internacional de atletismo baixou o limite de testosterona para mulheres que disputam provas entre as distâncias de 400 e 1.600 metros. Por causa desta regra, as três medalhistas dos 800m nas Olimpíadas do Rio, em 2016, passaram pelo teste e agora estão proibidas de competir nos Jogos de Tóquio nas supracitadas distâncias – são elas a sul-africana Caster Semenya, Francine Niyonsaba, de Burundi, e a queniana Margaret Wambui.
As três se recusam a tomar medicamentos para reduzir os níveis de testosterona que produzem naturalmente. Semenya, bicampeã olímpica e tricampeã mundial, tentou anular a regra na Corte Arbitral do Esporte, mas o pedido foi negado. Agora, ela tenta se classificar para as Olimpíadas de Tóquio nos 200m, prova que nunca havia disputado antes.
A World Athletics afirmou, procurada pela reportagem do Fantástico e do ge, que a regra não foi baseada em estereótipos de raça e gênero. Mas que é um meio necessário pra preservar a justiça em competições femininas.
Segundo o advogado especialista em direito desportivo Thomaz Mattosd e Paiva, que integrou de 2017 a 2019 a comissão legal da World Athletics, a categorização de atletas é falha, mas a inserção de um limite de testosterona visa a dar mais paridade à competição.
– É justo que essas mulheres tenham que passar por cirurgias irreversíveis só para que elas possam competir? Nos últimos 10 anos, fala-se mais sobre o corpo da Semenya do que sobre o quanto ela é uma atleta fabulosa – disse o pesquisador da Human Rights Watch Kyle Knight, que participou da elaboração do relatório.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2016/08/20/000_fg1uc.jpg)
Caster Semenya com a medalha de ouro na Rio 2016 — Foto: Eric FEFERBERG / AFP
– Existem casos de violência sexual e de abuso nessa política de testes. Algumas mulheres foram submetidas a médicos que as tocaram sem motivo algum, só por curiosidade ou para tentar entender como era a anatomia do corpo. E isso não tem nada a ver com elegibilidade para o esporte – emendou.
Também procurado pelo ge, o COI declarou que está elaborando novas diretrizes para o tema, que conciliem ciência, justiça esportiva e direitos humanos, mas elas só devem entrar em vigor depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
– Essas mulheres não sabem o que está acontecendo, estão completamente vendidas de informação quando alguém diz: você não pode mais competir, tem algo no seu sangue que te faz diferente e você não é bem vinda aqui – complementou Knight.
Enquanto o debate se arrasta ao longo de décadas, as mulheres tratam suas cicatrizes e tocam suas vidas. Duas delas toparam falar com o ge sobre os constrangimentos pelos quais passaram ao serem reprovadas em testes de gênero aos quais foram submetidas: a ex-jogadora de vôlei Érika Coimbra, medalhista olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Sydney 2000, e a meio-fundista Annet Negesa, de Uganda.
Antes das Olimpíadas de Londres, em 2012, um exame de sangue de Annet mostrou que ela tinha uma quantidade elevada de testosterona, o principal hormônio sexual masculino, mas que também é produzido por mulheres.
– Eu recebi a ligação do meu agente dizendo que eu não estava autorizada a ir para as Olimpíadas porque havia algum problema no meu sangue. E aí tive que fazer mais e mais exames, mas nunca me davam os resultados – comentou a atleta de Uganda, que no ano anterior aos Jogos de Londres havia sido semifinalista nos 800m no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2021/z/r/ReAdvWQjKBpYsmVcAyDQ/gettyimages-103020195.jpg)
Annet Negesa no Campeonato Mundial júnior de 2010 — Foto: Chris Trotman/Getty Images
Para voltar a competir, Annet disse ter sido orientada a retirar os testículos internos que possuía, mas sem saber que seria por meio de uma cirurgia delicada e com consequências para práticas esportivas.
– Quando acordei [da cirurgia], vi os cortes no meu corpo. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Me disseram que foi uma cirurgia simples e que eu voltaria a competir em algumas semanas. Mas demorei quase oito anos para voltar. Não me disseram que eu ficaria estéril e que teria que me tratar pelo resto da vida – complementou a atleta.
Agora com 28 anos, ela voltou a treinar, mas na Alemanha, país onde pediu. Em Uganda, membros da comunidade LGBT são perseguidos.
– Me atiraram na cova e pareceu que eu não podia mais voltar para o esporte – concluiu.
Érika hoje tem 40 anos e está aposentada do vôlei. Mas, ainda jovem, conheceu o constrangimento de passar por um teste de gênero. Ela tinha 17 quando recebeu a notícia antes de um Mundial júnior de vôlei.
– Eu fui fazer um teste de gênero, toda a equipe, todas as meninas faziam e eu, no meu caso, era uma menina, nasci menina, tudo certo em mim como mulher e de repente te dão uma bomba dessa: te avisam que você não passou no teste de gênero. Eles [federação internacional, que era quem fazia o teste] não me preservaram ali. Soltaram para a imprensa, não esperaram o meu tempo de ter informação, de fazer o teste novamente. De repente eu sou um ET, um avatar, sei lá. Porque eles estão me levando para me revirar – disse a ex-atleta.
Na verdade, Érika tinha uma doença. Era portadora da Síndrome de Morris, que a faz produzir mais testosterona do que o normal para uma mulher.
– Foi meio desesperador em um primeiro momento porque eu falei: eles vão me revirar da cabeça para cima. Eu falava para minha mãe ‘mostra para eles mãe’, chorando. ‘Olha a minha certidão de nascimento, não tem nada de errado’ – contou.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2019/09/28/gettyimages-1177269270.jpg)
Sebastian Coe, presidente da federação internacional de atletismo — Foto: Andy Lyons/Getty Images
Após tratamento e cirurgia, três anos depois ela saiu dos Jogos Olímpicos de Sydney com uma medalha de bronze no peito.
– Aí de repente eu comecei a ser a menininha bonitinha da seleção, a musa. Todo mundo amava e as pessoas esquecem, mas a sua dor não é esquecida – observou.
Érika ficou 23 anos sem falar publicamente sobre o assunto até aceitar participar dessa reportagem. Ela espera que com seu depoimento possa ajudar outras atletas que passam por isso.
– Se eu puder ajudar ou informar alguém de alguma forma, eu estou me ajudando. Acho que estou ajudando aquela menininha de 17 anos a se livrar de todo esse preconceito, medo, dor e insegurança. Libertando de tudo que eu carreguei a minha vida inteira sem ninguém saber que isso era uma doença e não uma escolha minha – desabafou, emocionada.
Medalhista olímpica e atleta consagrada, ela agora quer ser mãe.
– Eu vim ao mundo com má formação do útero, então a gente pensa em adotar uma criança. Em vez de eu ter essa tristeza daquela menina que perdeu a esperança de poder ser mãe naturalmente, eu ganhei uma outra esperança. Porque eu sei que uma vida precisa de mim.